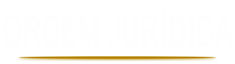
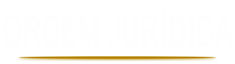

*Jessé Torres Pereira Junior
Uma república sem cidadãos de boa reputação não pode existir nem ser bem governada; por outro lado, a reputação dos cidadãos é motivo de tirania das repúblicas - Maquiavel
Sumário: 1. Introdução. 2. Aplicação dos princípios norteadores da ordem jurídica brasileira. 3. Direito e pandemia. 4. Os pontos de tensão no cotidiano dos controladores. 5. Conclusão.
1. Introdução
Jornais de circulação nacional veicularam, em maio de 2020, notícias de que operações policiais prenderam, no Rio de Janeiro, pessoas integrantes de quadrilha que estava a fraudar e obter vantagens indevidas em contratos administrativos emergenciais, com dispensa de licitação, para a compra de equipamentos necessários ao atendimento de infectados pelo novo coronavirus, internados ou por internar em hospitais públicos. Por mais chocante e desoladora que seja, do ponto de vista da ética e da moralidade pública, a notícia não deveria surpreender aos que exercem as funções essenciais à Justiça, a que se referem os artigos 127 a 135 da Constituição da República, nem aos órgãos de controle interno e externo da administração pública, nem aos de controle judicial.
Por outro lado, a pandemia está a desafiar a definição de estratégias, estruturas organizacionais e operacionais de ação dos governantes executivos para o atendimento eficiente e eficaz às pessoas infectadas, atendimento esse comprometido pela insuficiência dos recursos materiais, financeiros, humanos e organizacionais dos serviços públicos de saúde, a exigir descortino e presteza de escolhas e atuação, o que pode ensejar equívocos a serem aproveitados pelos oportunistas de plantão.
A natureza humana sempre conviveu, e convive, com os dilemas do confronto entre o bem e o mal, entre pessoas que assumem compromissos com cada um desses lados, ou com nenhum deles – traçando caminhos próprios, pretensamente diferenciados -, irresignados diante das desditas da sorte ou prontos para o crescimento de fortunas ou poderes indevidos, no estado democrático de direito.
Tais fatos e circunstâncias põem aqueles agentes – promotores e procuradores de justiça, advogados públicos e privados, e seus assessores jurídicos, além de controladores e magistrados em geral – em alerta e, não raro, dependendo da criatividade de cada qual, predispostos à concepção de soluções e do manejo de conceitos e instrumentos que correspondam ao que pareceria ser uma realidade desconhecida e alheia à ordem jurídica existente. Daí a sobrevinda de normas e regras de atuação especiais e extraordinárias, que se multiplicam em atos os mais variados, tais como medidas provisórias, resoluções, decretos, pareceres normativos, em todas as esferas da administração direta e indireta dos entes federativos, passando, ou não, pelo crivo dos tribunais judiciais, quanto à sua constitucionalidade, ou dos tribunais de contas, quanto à sua legalidade, economicidade e legitimidade.
Sem falar de iniciativas, que deixam atônito o estado laico, como aquela lançada por meio do Decreto nº 5.194, de 13.05.2020, da Prefeitura Municipal de Ladário, Estado do Mato Grosso do Sul, que convocou “a população Ladarense a vinte e um dias de oração, um dia de jejum e a participação em cerco espiritual de orações na data que determina, clamando por livramento de todo o mal e pela benção do Senhor Deus sobre este município e sobre a nação brasileira, diante do COVID-19”.
Relembrar as relações que a pandemia manterá com a ordem jurídica vigente ou a instigará a manter, sobretudo quanto à aplicação de princípios, normas e conceitos consagrados, independentemente daquela enxurrada de novas regras, é o singelo e despretensioso objetivo deste texto, sobretudo sob a ótica dos órgãos e agentes de controle.
Uma vez que, como curial, os agentes públicos e servidores do estado tendem a pensar, como todos, não apenas a partir dos elementos técnicos de sua formação, mas, também, em razão da experiência que sua idade lhes haja permitido acumular, vale a pena transcrever, em arremate a este introito, a escala definida por DOMENICO DE MASI – o festejado sociólogo italiano autor do best-seller O Ócio Criativo, de duas décadas atrás –, em seu mais recente livro, O MUNDO AINDA É JOVEM (São Paulo: Ed. Vestígio, 2019, p. 47-48, trad. Sieni Cordeiro Campos e Reginaldo Francisco):
Aos 30 anos de idade, eu estava convencido de que os trintões eram o coração da Terra: os cavaleiros da luz cheios de amor e transgressão, destinados a consertar o mundo antes que as regras conseguissem subjugar as emoções, antes que o mundo os ferisse de morte ao integrá-los a seus mecanismos. Aos 40, estava convencido de que os quarentões eram o sal da Terra: as tropas de assalto destinadas a substituir os dominadores pelos líderes; finalmente capazes de dar sentido às emoções e sentimento às regras. Aos 50, eu estava convencido de que os cinquentões eram a mente da terra, os depositários das ciências puras e aplicadas, da arte e da organização, da paz e da guerra; capazes de impor uma regra até às emoções. Aos 60, estava convencido de que os sessentões eram a síntese da Terra, o estuário das dialéticas, o ponto de convergência do máximo de indignação com o máximo de tolerância, em que a emoção e a regra, cansadas de batalhar, finalmente se casam compondo uma totalidade. Aos 70, estava convencido de que os setentões eram os marcos quilométricos da Terra, a quem o mundo confia sua rota quando, desorientado, precisa de um modelo ao qual se referir para distinguir o bem do mal, o verdadeiro do falso, o belo do feio. Aos 80, estou convencido de que minha geração é a energia da Terra: os dispensadores de coragem e equilíbrio, os cultores intransigentes da justiça e da alegria, os amantes conscientes das obras e dos dias, um pouco mais próximos da morte e, portanto, um pouco mais enamorados da vida. Aos 90 – admitindo que eu chegue lá -, estarei convencido de que as pessoas de 90 serão testemunhas da vida sobre a Terra, as únicas autorizadas a certificar e garantir a persistente juventude do mundo. Aos 100 anos, finalmente compreenderei o que Heráclito, o Obscuro, tentava dizer quando escreveu que ‘o tempo é uma criança que brinca’.
2. Aplicação dos princípios norteadores da ordem jurídica brasileira
O primeiro dos paradigmas do controle da administração pública no estado democrático de direito contemporâneo é o da supremacia da Constituição, dado que nela se inscrevem os valores, princípios e normas que a sociedade tem por essenciais como pauta de direitos individuais e sociais fundamentais, bem assim das políticas públicas que os tornarão efetivos para todos, sem exclusão, nos campos da educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados (artigos 6º, 193 e seguintes da Carta de 1988).
Não há, na vigente Constituição brasileira, dispositivo que, direta e expressamente, correlacione o poder judiciário com o tema do combate à corrupção. Mas é óbvio que, ao incluir, entre os direitos e garantias fundamentais - todos providos de eficácia imediata (art. 5º, § 1º) -, o de que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV), nossa Carta Política incumbe o judiciário de zelar pela seriedade das relações que se estabeleçam entre as pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas - empresariais ou sem fins lucrativos -, os órgãos e entidades estatais, paraestatais, da sociedade civil ou não-governamentais.
Lesões à boa fé, à idoneidade ou à lisura que devem presidir essas relações se encontram entre as que ao judiciário impende analisar, com o fim de coibir desvios ofensivos aos fundamentos do estado democrático de direito (art. 1º - soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político), mediante a aplicação de corretivos, preventivos ou repressivos, previstos na ordem jurídica, a partir da própria Constituição.
A corrupção é desvio de conduta apto a causar lesão ao interesse público e ao bem comum porque, mediante paga escusa e procedimentos maliciosos, beneficia a poucos em detrimento de muitos. Manipula recursos materiais que haveriam de ser aplicados no atendimento àqueles direitos individuais e sociais fundamentais, que são da titularidade de todos. Traça estratégias para dominar a governança e a governabilidade – que haveriam de ser geridos com impessoalidade e probidade –, no propósito de favorecer interesses sectários e egoísticos, que certamente seriam censurados se submetidos ao escrutínio da sociedade. Por isto que a corrupção frauda, em suas vísceras, a isonomia e a transparência inerentes ao estado democrático de direito, ao lado de outros princípios a que devem obediência todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência - art. 37, caput).
A corrupção é patologia da conduta humana que põe em cheque a ordem jurídica, seja no âmbito do direito privado (agride a boa-fé objetiva e a eticidade que devem sustentar as relações jurídicas contratuais, na dicção do art. 422 do Código Civil) ou do direito público (configura as hipóteses de improbidade administrativa destacadas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 02.06.1992, que regulamenta a aplicação do art. 37, § 4º, da Constituição da República). E quando vicia, em grau e modo específicos, a conduta daqueles que interagem com o estado e seus agentes, pode tipificar os crimes contra a administração pública definidos no Código Penal (artigos 312 a 359-H).
Diante de notícias e indícios de crimes de corrupção ou de atos ímprobos na gestão pública, as instituições fiscalizadoras, tais como o ministério público e os tribunais de contas, podem e devem levar o caso à apreciação judicial, pela via acionária própria, para apuração e aplicação de penalidades, se aqueles forem comprovados em processo regular, ou seja, garantido o exercício da ampla defesa e do contraditório, posto que, no estado democrático de direito, também os acusados são titulares de direitos limitadores da ação dos poderes constituídos (CR/88, art. 5º, incisos LIII a LXVIII). E não apenas aquelas instituições fiscalizadoras; também são legitimados a denunciar às Cortes de Contas irregularidades ou ilegalidades quaisquer cidadão, partido político, associação ou sindicato (CR/88, art. 74, § 2º).
Resulta que todos os atos que viciam a gestão pública, entre os quais os de corrupção ativa ou passiva e de improbidade, hão de ser submetidos a julgamento pelo judiciário, no momento oportuno, por iniciativa do órgão a tanto legitimado, no desempenho de sua competência institucional. Segue-se a pergunta que importa ao tema em testilha: estará o judiciário, seus juízes e servidores, preparados para processar e julgar aqueles atos, segundo princípios e normas constitucionais e legais, com a higidez e os escrúpulos próprios do estado democrático de direito?
Justifica-se a indagação não, propriamente, para responder se o aparato judicial brasileiro é estruturado e equipado o suficiente para cumprir a promessa que o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição faz aos brasileiros – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os vetores da economicidade e da eficiência se aplicam ao funcionamento de todos os poderes públicos, logo também ao judiciário. Notório que este se debate com crônicas dificuldades de recursos para bem cumprir a promessa constitucional. Mas é este o ponto de partida para o exame do tema proposto.
Como o judiciário não é, ordinariamente, gerador de receitas próprias – e quando o é, o índice é exíguo (em média, até 15% do orçamento anual de um tribunal), através de fundos instituídos por lei para arrecadar e aplicar, na manutenção do próprio poder, valores correspondentes a taxas, emolumentos e custas judiciais (CR/88, art. 98, § 2º) -, torna-se dependente de repasses pelo executivo, que correspondem, no mínimo, à satisfação das despesas com pessoal (em torno de 80 a 85% do orçamento global de um tribunal), que não podem ser atendidas por verbas daqueles fundos especiais, por expressa vedação constitucional e legal.
As estatísticas dos tribunais brasileiros no século XXI evidenciam que o estado, suas entidades vinculadas (autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista) e as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos essenciais (telefonia, energia elétrica, gás, água e esgoto, transportes coletivos) são os principais réus em volume de demandas levadas à justiça pelos cidadãos, pelo ministério público e pela defensoria pública, seja para reparar danos decorrentes de suas ações ou omissões, para cobrar o cumprimento de obrigações de fazer ou de não fazer, ou para o pagamento de valores indenizatórios de que o estado ou seus agentes possam ser devedores.
Excetuados os próprios juízes, os fiscais da ordem jurídica e os credores daqueles valores e obrigações, aos inadimplentes, públicos ou privados, pouco interessa que o judiciário disponha dos meios necessários a que funcione em tempo razoável. A engrenagem estatal regateia recursos financeiros suficientes para o custeio de programas de modernização administrativa e métodos ágeis de gerenciamento da máquina judiciária, o que contribui para retardar o andamento dos processos. Não se chega ao ponto de dizer que tal postura configure corrupção, mas que estimula a leniência do estado para consigo mesmo em face dos deveres jurídicos que lhes sejam impostos por decisões judiciais. Em outras palavras: a conduta orçamentária do estado deveria guardar, em síntese, índole ética na relação entre os poderes públicos e as expectativas da sociedade, contudo assim tende a não ser, sempre ao pretexto de que há outras prioridades. Nada obstante, os direitos sociais consagrados na Constituição não serão respeitados sem um judiciário cônscio de suas responsabilidades e apto a bem desempenhá-las, tal o juramento de cada magistrado ao assumir o cargo – “cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis”.
Apontadas as dificuldades dos recursos organizacionais, materiais e financeiros, passa-se ao aspecto crucial do tema: o preparo dos recursos humanos. Isto porque a corrupção não tem por alvo, apenas, servidores dos poderes executivo e legislativo. Como fenômeno cultural inerente à natureza humana e à educação das pessoas, decerto que os agentes e as práticas corruptoras rondam igualmente o judiciário. Ingênuo seria pensar o contrário.
Todo juiz é agente político do estado. Há de ser independente para bem aplicar o direito ao caso concreto e julgá-lo segundo as provas colhidas em harmonia com o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. As Constituições brasileiras sempre adotaram, desde a do Império, de 1824, o sistema da jurisdição única, ou seja, nenhum outro poder que não o judiciário ostenta competência para decidir conflitos de direito em caráter definitivo, o que equivale a dizer que todo conflito não resolvido, mais dia, menos dia, mediante provocação da parte legitimada, acabará na mesa de um juiz, que o decidirá em favor de um dos litigantes, tenha o litígio a natureza que tiver – cível, penal, empresarial, administrativo, tributário, trabalhista.
O somatório de poderes instrumentais enfeixados pela lei nas mãos do juiz é considerável – pode mandar prender ou soltar, penhorar ou livrar o patrimônio, estabelecer débitos e créditos, determinar pagamentos ou deles liberar, absolver ou condenar. São instrumentais porque não constituem um fim em si mesmos, mas o meio de realização do direito justo. Quanto maiores os interesses em lide, maior a tentação de assediar o juiz com propostas que habilitem a obter ganhos, evitar ou reduzir perdas, protelar o desfecho do processo. Quanto maior o despreparo emocional e ético do juiz, maior a probabilidade de confundir a instrumentalidade de seus poderes com onipotência, que, ao invés de fortalecer o juiz, o deixará vulnerável ao assédio corruptor.
O folclore forense registra que, certa feita, em comarca do interior, um advogado matreiro foi contratado para defender os interesses de um dos poderosos da região, em singela ação de despejo. Ao inteirar-se do caso, veio a saber que o juiz do processo não aceitava favores, por mais inocentes que aparentassem ser. Comprou um exemplar de livro do gênero que apurara ser o da preferência do juiz e remeteu-lhe de presente. Ganha a causa, gabou-se com o cliente dos efeitos da artimanha. Quando este demonstrou sua surpresa em razão da reputação do magistrado, o advogado esclareceu que mandara o livro em nome da parte contrária. A corrupção avança a patamares bem mais graves e insidiosos que os do folclore, porquanto, abrangente, dissemina o descrédito da sociedade em suas instituições.
Para ilustrar como a corrupção corrói a credibilidade das instituições - também o judiciário - recordem-se dois episódios que, nada obstante ocorridos há mais de vinte anos, ainda hoje são referidos: o das fraudes previdenciárias que, na década de 1990, foram objeto de apuração pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desaguando na condenação de advogados, procuradores e juízes, que se haviam conluiado na liberação de valores de benefícios previdenciários e acidentários indevidos; o do desvio de verbas destinadas à construção de nova sede de tribunal regional do trabalho, em São Paulo, culminando com a condenação de empresários, políticos e do juiz presidente da Corte, que se haviam associado para lesar o erário. Os juízes perderam o cargo por efeito da condenação. Mais recentemente, um juiz foi denunciado por fazer uso pessoal e privado de veículos apreendidos a um empresário, como garantia de dívidas objeto de processo judicial; o juiz foi afastado das funções e responde aos procedimentos pertinentes.
3. Direito e pandemia
A pandemia pode e deve ser associada a um clássico conceito da ciência do direito, qual seja o de álea. Álea é o teor de acaso que acompanha todas as condutas e decisões humanas, ou seja, tudo o que pode dar certo também pode dar errado, dependendo das circunstâncias, cabendo a cada um assumir as consequências de suas escolhas e de sua capacidade de prever efeitos e resultados. É o que se chama de álea ordinária, e sua ocorrência não altera atos jurídicos produzidos e contratos celebrados, seja no âmbito privado ou público, ou seja, a ninguém é dado esquivar-se de cumprir as obrigações que assumiu a pretexto de que os resultados esperados não aconteceram em razão de uma álea ordinária.
Mas há áleas que ultrapassam a capacidade de previsão e de controle dos agentes e titulares de direitos quando definem seus encargos e obrigações em face da sociedade, do estado ou do outro, de acordo com a Constituição, as leis vigentes e as cláusulas contratuais estabelecidas e aceitas - estas são as fontes primárias do direito. Essas segundas áleas são chamadas de extraordinárias, porque a elas a vontade humana não consegue se opor, nem resistir, por isto que, quando ocorrem, o direito admite a revisão dos atos expedidos e dos contratos firmados anteriormente, para salvar o que deles for possível diante da álea extraordinária sobrevinda, ou reconhecer-se a exaustão do direito. São áleas extraordinárias a força maior e o caso fortuito. A pandemia nada mais é do que uma álea extraordinária universal.
Nada há de novo nisto, do ponto de vista da ciência jurídica.
O sistema do direito brasileiro filia-se à escola romano-germânica de estruturação da ordem jurídica, cuja raiz remonta ao direito romano da antiguidade, que conhecia pandemias e as associava ao conceito de força maior ou caso fortuito. Basta registrar que, no ano de 542 da era cristã, ocorreu o que passou à história como “peste de Justiniano” (então imperador romano), tida como a primeira pandemia de peste bubônica e pneumônica, “extremamente virulenta e com elevado índice letal. Começou em Pelusa, no Egito, de onde passou ao Oriente médio e à Europa ocidental, marchando sempre do litoral para o interior... Só em Constantinopla fez 10 mil vítimas. Dada a gravidade da afecção pulmonar, esperava-se a entrega do espírito a cada espirro. Donde o costume de dizer à vítima: Deus te abençoe” (apud Enciclopédia Britânnica do Brasil, vol. 8, 1997, p. 3.897).
JOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES, professor de direito romano e civil antes de tornar-se Ministro do Supremo Tribunal Federal, na década de 1970, lecionava que “os termos casus fortuitos, ius maior e similares eram empregados nas fontes para designar diversas hipóteses (por exemplo: terremotos, incêndios, naufrágio, guerra) em que a obrigação se extinguia por impossibilidade objetiva da prestação, e o devedor, a quem o fato danoso não poderia ser imputado, se eximia, em consequência, da responsabilidade. Nem mesmo no direito justinianeu, os jurisconsultos formularam um conceito abstrato que abrangesse todas as hipóteses em que isso ocorria, referidas nos textos. É certo que do casuísmo das fontes pode-se inferir, de modo geral, que o caso fortuito ou força maior era o acontecimento decorrente da natureza ou de fato do homem, por via de regra imprevisível, a que o devedor não podia resistir, e que acarretava a impossibilidade objetiva da prestação” (Direito Romano, vol. II. São Paulo: Forense, 2ª ed., 1972, p. 50).
Assim igualmente ensinava SÍLVIO MEIRA: “Nas hipóteses de caso fortuito e força maior, em que houvesse desaparecimento ou perecimento da coisa, o devedor não era responsável” (Instituições de Direito Romano, vol. 2. São Paulo: ed. Max Limonad, 4ª ed., 1971, p. 417).
O vigente Código Civil brasileiro, de 2002, mantem o conceito que sempre esteve em nosso direito positivo. De seu art. 393 se extrai que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Alerta ANDERSON SCHREIBER que “Parte da doutrina sustenta a diferenciação entre os conceitos de força maior e caso fortuito, enxergando na primeira fato natural inevitável, como as enchentes ou os terremotos, e, no segundo, um evento humano insuperável, como uma greve ou os chamados atos do Príncipe, medidas adotadas pelo Poder Público que impeçam o cumprimento da obrigação pelo devedor. Tal distinção, todavia, assume, entre nós, caráter meramente acadêmico, uma vez que tanto o Código Civil de 1916 quanto a codificação atual trataram de caso fortuito e força maior como sinônimos perfeitos, definindo-os como ‘o fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir’. A definição afasta também a tese de que a imprevisibilidade é requisito do caso fortuito ou de força maior. Em nosso direito civil, não importa se o evento poderia ter sido ou mesmo se foi previsto pelo devedor, em que pese alguma insistência dos tribunais em perquirir a imprevisibilidade dos fortuitos. Se o evento era inevitável, e implicou inadimplemento, há caso fortuito ou força maior, e o devedor não responde por perdas e danos, pela simples razão de que o prejuízo deriva de causa alheia à sua conduta. Trata-se, portanto, de fator estranho à cadeia causal, apto a romper o nexo de causalidade inicial entre a atividade do agente e o dano” (Manual de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: ed. Saraiva, 2ª edição, 2019, p. 380).
O direito administrativo, em sua evolução como ramo autônomo das ciências jurídicas, a partir de fins do século XIX, incorporou a estrutura dos conceitos do direito civil e os ajustou à presença condicionante do interesse público. Assim também se observa em relação ao conceito de força maior ou caso fortuito. Como notou DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, “O acontecimento imprevisível ou aquele que, embora previsível, esteja além das possibilidades de vir a ser evitado por qualquer das partes, também poderá ser causa de extinção do contrato de concessão. Cabem, nesta categoria, as hipóteses gerais clássicas da vis major, como sejam as epidemias, greves, revoluções, guerras, cataclismos...” (Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: ed. Forense, 16ª ed., 2014, p. 492).
Outra não foi a orientação da Lei Geral de Licitações e Contratações, nº 8.666, de 1993, ao dispor, em seu art. 65, II, “d”, que os contratos administrativos podem ser alterados, por acordo das partes, “para restabelecer a relação que pactuaram inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual”.
Em suma, portanto, seja nas relações contratuais privadas ou públicas, a pandemia haverá de ser tratada como álea extraordinária, o que não significa dizer que todas as obrigações contratadas estarão automaticamente resolvidas. Significa que, a cada caso, as partes haverão de verificar se a pandemia inviabiliza o cumprimento das obrigações porque rompe o equilíbrio da equação econômica-financeira do contratado, impondo ônus insuportáveis para uma das partes ou para ambas, de modo a impedir a execução apta a alcançar as finalidades que haveriam de resultar atendidas do quanto se pactuou. Assim é, e deve ser, porque à álea extraordinária não dá causa qualquer dos contraentes, sendo ela, como é, externa e irresistível à vontade das partes em relação ao cumprimento do contratado. O direito conhece a responsabilidade sem culpa (a objetiva do art. 37, § 6º, da vigente Constituição da República), mas não a responsabilidade sem causa.
4. Os pontos de tensão no cotidiano dos controladores
Há pelo menos dez visíveis cenários de tensão desenhados perante as instituições de controle interno e externo da gestão pública, ao se oporem à corrupção e à improbidade administrativa, em situações de álea extraordinária, notadamente tratando-se de pandemia.
1º - Diz-se que todo homem ou mulher tem o seu preço; isto se aplica aos controladores, incluindo juízes, juízas e servidores da justiça em geral? Se assim for, e não se duvida que possa ser - tal a comprovada universalidade do axioma e o fascínio que o poder exerce sobre o gênero humano -, é indispensável que esses agentes sejam selecionados com rigor nos concursos públicos, e não apenas no sentido de conhecimentos técnicos jurídicos, mas rigor no sentido de identificar nos candidatos a vocação para distribuir justiça de acordo com os postulados inscritos no art. 139 do Código De Processo Civil de 2015, em vigência desde 18 de março de 2016: “o juiz dirigirá o processo... incumbindo-lhe: I – assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III – prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias...”.
2º - A deontologia jurídica deixou de ser matéria ministrada nos cursos de bacharelado em direito há duas gerações (cerca de quarenta anos), tampouco, salvo exceções pontuais, ocupa a grade regular dos cursos de especialização ministrados nas escolas da magistratura, da advocacia e do ministério público, como se a aprovação em concurso público ou o exame de ordem bastasse para vacinar esses profissionais contra o germe da corrupção. Ao contrário, tão resistente é este que nenhuma demasia haveria em, como antídoto, falar-se dele desabridamente e mostrarem-se os seus efeitos deletérios repetidamente, durante toda a formação desses profissionais e ao longo do exercício de suas funções. Sublinhe-se que, desde a década de 1980, os quadros da magistratura vêm sendo preenchidos por profissionais cada vez mais jovens, não sendo raro que, para alguns, o cargo de juiz coincida com o do primeiro emprego. Basta ilustrar com o fato de que era de 29 anos a idade média dos 35 candidatos aprovados no concurso de ingresso na magistratura de carreira do Estado do Rio de Janeiro, em janeiro de 2015, sendo que o mais jovem contava 27 anos.
3º - A corrupção tem incorporado a suas práticas refinamentos e sofisticações tecnológicas que disfarçam autorias, métodos, procedimentos, beneficiários; as instituições fiscalizadoras e o judiciário haveriam de adotar providências que os habilitassem a desvendá-los, o que demanda investimentos em cursos e treinamentos especializados, no Brasil ou no exterior. Os casos de êxito no combate à corrupção em rede – as chamadas “organizações criminosas” - contam com profissionais que tiveram a oportunidade de receber tal preparo e o aplicaram na condução de investigações e processos, porém ainda são poucos para fazer face à dimensão do problema, num mundo em que a globalização sócio-econômica também pode ser posta a serviço da corrupção.
4º - Formação continuada, seja quanto à ética peculiar do controle, especialmente pelo judiciário, seja quanto ao domínio de técnicas e tecnologias específicas, são ferramentas relevantes, contudo devem vir acompanhadas de renovada compreensão acerca das rotinas litúrgicas de um tribunal; certa liturgia é inerente ao cotidiano das cortes, cujo ambiente não prescinde de serenidade, recato e hierarquia funcional; mas há exageros que, eventualmente, podem favorecer, direta ou reflexamente, os descaminhos da corrupção, tais como atos e audiências em segredo de justiça além dos casos expressamente previstos em lei; intervenção do judiciário na gestão de meios de órgãos administrativos; compartilhamento externo de informações ainda restritas aos autos do processo; excessos no uso de linguagem incomum para os destinatários das decisões, por isto mesmo sujeitas a manipulações do entendimento sobre o sentido do que se decidiu; alinhamento de juízes a preconceitos externados por órgãos e agentes incumbidos da apuração, posto que também a eficácia (aptidão para produzir resultados de interesse público) do trabalho destes influenciará o julgamento, exigindo equidistância de quem controla e julga.
5º - Magistrados e controladores em geral devem estar pessoalmente preparados para o exercício de suas respectivas funções, mas não apenas. Necessitam de contar com o apoio da instituição a que servem, o que inclui acompanhamento permanente por seus órgãos correicionais, seja para prevenir ou sancionar condutas inadequadas, seja para proteger contra pressões ilegítimas, qualquer que seja a sua origem, inclusive de outros poderes do estado. O juiz, no estado democrático de direito – adotado, recorde-se, o sistema de jurisdição única -, é juiz de todos, de ricos e pobres, de poderosos e humildes, de letrados e ignorantes, de homens, mulheres, crianças e idosos, de empresários privados e autoridades públicas; e a todos deve prestar a jurisdição com independência, sobriedade e isonomia. Espera-se que os órgãos correicionais não cedam a pressões para expor juízes e servidores a constrangimentos desnecessários, sem embargo da firmeza de sua atuação no saneamento de comprovados erros e desvios.
6º - Elevado nível de stress acompanha o dia-a-dia das funções de quem controla e julga, cujo equilíbrio emocional é indispensável para o respectivo desempenho. Alguns poucos tribunais têm disponibilizado, em sua estrutura permanente, serviços de apoio psicológico. Sentimentos extremos e antagônicos convivem no cotidiano das funções judicantes e de controle, tais como impotência para resolverem-se as demandas em prazo breve, como seria desejável, ou se imagina que tudo se resolva por força de uma ordem judicial (uma ordem judicial não altera a natureza das coisas – pedras não voam ainda que o juiz assim ordene); culpas por não haver encontrado a solução pacificadora do conflito em definitivo, ou alheamento da realidade que contorna o sofrimento da frustração pela eternização do processo. Estados psíquicos, enfim, que a corrupção pode e sabe manejar, incluindo o envolvimento de familiares.
7º - O exercício das funções confronta os magistrados e agentes de controle com desafios renovados a cada passo, a cobrar-lhes equilíbrio emocional, conhecimento especializado, sabedoria na dosimetria do poder, permanente treinamento, tudo a recomendar remuneração condizente e a salvo de idiossincrasias governamentais e oscilações orçamentárias. Daí a regra do art. 168 da Constituição, que manda o executivo liberar os duodécimos dos recursos devidos aos tribunais e órgãos fiscalizadores até o dia 20 de cada mês, o que nem sempre se mostra financeiramente possível, gerando circunstâncias que também podem ser aproveitadas pela sedução corruptora.
8º - Os ventos de mudança nas relações entre o público e o privado, no estado democrático de direito, alcançam uma relação que sempre foi complexa, qual seja a do agente com o jornalista. O juiz ou o controlador, como agente político do estado, cumpre o dever de aplicar o direito para resolver conflitos de interesses que lhe são submetidos; o jornalista, como agente de empresa privada lucrativa e independente, cumpre o dever de informar com idoneidade. Ambos os deveres têm sede na Constituição e correspondem a direitos assegurados à sociedade e aos indivíduos em geral, mas o controlador ou juiz também tem o dever de evitar que a exposição midiática dos conflitos embarace o curso dos processos em andamento, ainda que não sejam sigilosos, ao passo que haverá conflitos cuja exposição pela mídia constituirá notícia de interesse da sociedade. Eis a raiz da dificuldade da relação: os termos da exposição do conflito. As tentativas de harmonizar a relação afastam-se da essência da dificuldade quando pretendem conduzi-la para o campo dos sentimentos ou do uso recíproco. Equivocado o primeiro porque controladores ou juízes e jornalista não são amigos, nem inimigos ou adversários, no exercício de suas respectivas funções. São profissionais que se devem respeito e consideração em face dos relevantes papéis que desempenham em favor das liberdades e da democracia. Equivocado o segundo porque nem o jornalista deve ver no agente, apenas, a fonte de notícias a ser conquistada, nem o agente deve ver no jornalista meio de acesso à notoriedade. Ao agente público pouco ou nada importa se o caso que está a analisar constitui, ou não, notícia. O agente não escolhe os processos. Recebe-os por distribuição aleatória, sejam vultosos ou módicos os valores financeiros decorrentes do conflito, envolventes ou não de celebridades. Deverá resolvê-los com discrição, aplicando o que lhe pareça ser o direito justo, à vista das provas produzidas, em tempo razoável. E este varia conforme a natureza da causa e a necessidade de dilação probatória de maior ou menor extensão e complexidade. Os primeiros fiscais naturais de seu trabalho são os advogados que patrocinam as partes em litígio. Os segundos fiscais são os magistrados de grau superior, que examinarão os recursos interpostos pelos litigantes contra as decisões proferidas. Os terceiros fiscais são os membros do ministério público (promotores e procuradores de justiça), que acompanham os processos com o fim de assegurar a observância da lei e do interesse público. Do jornalista não se pode exigir conhecimento jurídico equivalente ao do agente. A sua função de informar funda-se na retidão ao apurar e transmitir os fatos e suas personagens, bem como na sensibilidade de interpretar o que seria, ou não, de interesse da população conhecer e criticar. A população é o único fiscal da qualidade da notícia que a empresa jornalística lhe oferece como produto, tanto que o compra ou o rejeita. Eventualmente, caberá ao juiz julgar o jornalista que tenha abusado do direito de informar e, ao fazê-lo, lesou direitos da personalidade de terceiros. Como caberá ao jornalista transmitir à sociedade dados que a habilitem a julgar o juiz ou controlador quando este se desvia de sua missão constitucional. Tratamento respeitoso e cordial, porém independente e profissional, é o que, na relação agente-jornalista, produzirá o que deles esperam a sociedade pluralista e o estado democrático de direito. Relação essa que também poderá sofrer performáticas intervenções corruptoras, para elevar ou reduzir responsabilidades, exagerar ou minimizar fatos, desacreditar a isenção do julgamento, inclusive fazendo uso deletério de ferramentas de rede social.
9º - A constitucionalização do direito, embora fenômeno universal dos estados democráticos de direito, não se desvincula, exatamente por ser constitucional, da ambiência cultural em que se desenvolve. Importa antes compreender as motivações de um texto constitucional (as funções que desempenha no dia a dia da nação e com quais finalidades), do que definir o que é uma constituição (a descrição de sua forma preceptiva). Thomas Jefferson, em 1776, escreveu os fundamentos da Constituição dos Estados Unidos da América tendo como verdade evidente por si só (“we hold these truths to be self-evident”) que todos os homens são criados iguais e como titulares de direitos inalienáveis, entre os quais a liberdade e a busca da felicidade. Para assegurar tais direitos, ditava, os governos dispõem de poderes derivados do consentimento dos governados (“consent of the governed”), seguindo-se que estes têm o direito de destituir qualquer governo que venha a desviar-se da proteção devida àqueles direitos humanos fundamentais. Nada obstante, o mesmo Jefferson era dono de escravos e, em acordo com os demais líderes da época, não considerou que o direito de propriedade devesse subordinar-se à liberdade e à busca da felicidade com que nascem todos os homens. O que significa que, por trás e à margem de toda postura constituinte, bem como dos princípios e normas que gera, tecem-se pactos políticos, econômicos, sociais e corporativos que os condicionam e somente fazem sentido se compreendidos em seu contexto histórico-cultural, por isto que podem ser campo fértil para propostas enevoadas e corruptoras, sob rótulos que se auto proclamam justificáveis em seus respectivos contextos. É a síntese das conhecidas escusas de que “se fez o que outros sempre fizeram”, ou que integra o “jogo do poder”, por isto que desculpável. Ou que se impõe conter eventuais abusos no exercício da autoridade.
10º - Visto pelo prisma do desenvolvimento, o estado democrático de direito convive com pelo menos três concepções, experimentadas ao longo do século XX – a do estado liberal, a do estado da promoção social e a do estado regulador -, nenhuma delas imune às investidas da corrupção. Quando se trata de compreender os controles que a sociedade deve exercer sobre o estado organizado segundo a democracia e o direito, uma didática explicação dos modernos compêndios compara-os aos sinais de trânsito (vg Loveland, Ian - Constitutional Law, Administrative Law and Human Rights. Londres: Oxford University Press, 7ª ed., 2015). Os teóricos da “luz vermelha” (estado liberal) concentram prioridade nos meios de impedir a intervenção governamental sobre a autonomia individual (na CR/88, art. 170, IV e parágrafo único). Os teóricos da “luz verde” (estado da promoção social) sustentam que o governo deve submeter a autonomia individual à realização do bem-estar coletivo e à efetivação dos direitos sociais (na CR/88, art. 6º). Os teóricos da “luz amarela” (estado regulador) ponderam que as necessidades individuais se distribuem por amplo espectro sócio-econômico-cultural, exigente de estrutura flexível e controle sobre a dosagem das intervenções do estado (na CR/88, art. 174). A cor vermelha indica ser proibido avançar sobre a livre concorrência, desde que leal; a verde estimula a satisfação do bem-estar das pessoas, observados os limites de velocidade; a amarela acende sempre que erro ou má-fé houver no planejamento da rota ou no ritmo que se imprima ao veículo, sempre em movimento. A didática das cores pode esbarrar no daltonismo das instituições governamentais, inepto para identificar quando o muito é demais e o pouco não é o bastante para se chegar a destinos desafiantes de consenso, no prazo planejado e respeitadas as características do veículo de que se disponha. Governos politicamente daltônicos concorrem para situações de crise porque baralham as cores ou não as distinguem. O excesso ou a escassez do vermelho, do verde e do amarelo produzirão desordem no trânsito da produção eficiente de bens e serviços, da justa distribuição do trabalho e da renda, da educação e da saúde de qualidade para todos, do respeito à segurança pública e das relações jurídicas, do equilíbrio entre receitas e despesas, da probidade na gestão pública. Inverter ou remover os sinais trará caos ao trânsito. É preciso compreender o significado de cada cor e debater sobre os cruzamentos, avenidas e acessos onde devem ser reforçados os semáforos existentes, instalados os ausentes ou retirados os dispensáveis. Motoristas, pedestres, condutores e passageiros devem manifestar-se, pois sabem, ou deveriam saber, onde a sociedade estará mais exposta a acidentes, atropelamentos e morte. As personagens desse trânsito responderão às instâncias competentes, sem exceção, pelas infrações àqueles sinais, seus resultados e a intenção com que as cometeram. O debate permanente entre os atores sociais em busca de consensos traduz a democracia; a prevenção e a reparação de danos civis, criminais, administrativos e ambientais significam o direito. Consenso, prevenção e reparação que não se coadunam com práticas corruptivas, porém podem ser por elas contaminados.
5. Conclusão
Recorra-se à perspectiva do cientista político. O estado democrático de direito pretende virar pelo avesso o mais tenebroso caráter do poder, como explica Bobbio e basta, à guisa de conclusão, para apreenderem-se os contornos da realidade dos fatos postos à vista da sociedade brasileira e com frequência crescente levados à apreciação dos tribunais judiciais e de controle externo:
A tendência do poder para imitar a potência de Deus sempre existiu. Pense no que é a democracia em relação à autocracia. A democracia é a tentativa de tornar o poder visível a todos; é, ou deveria ser, poder em público, ou seja, aquela forma de governo em que a esfera do poder invisível está reduzida ao mínimo. Como poderiam ser eleitas pessoas que não se deixam ver? A autocracia não pode dispensar o gabinete secreto, que é exatamente o lugar no qual o poder é o menos visível possível. As decisões devem ser tomadas em segredo porque o povo não deve conhecer, não deve saber... As decisões de poder devem ser secretas, ainda que o poder, para ser poder, deva de algum modo manifestar-se. Pense nas grandes festas, nos arcos do triunfo, na pompa ostentada, na carruagem real que passa em meio às duas alas da multidão. O poder se esconde e ao mesmo tempo se manifesta para tentar atrair a atenção, para seduzir o povo com a pompa e o fausto. É invisível, mas tem necessidade de se fazer ver. Com o segredo, o poder busca inculcar temor; com a pompa e o fausto, o poder tenta seduzir. Temor e respeito estão estreitamente ligados à questão do segredo do poder. O poder quer ser temido e respeitado. O temor e o respeito estão atados... Tanto o temor quanto a veneração são dois comportamentos de submissão: o primeiro com o terror, o segundo com a admiração... na triste ocorrência da corrupção, maior a arbitrariedade dos funcionários e dos políticos, maior o seu poder de tomar decisões arbitrárias, tanto mais fácil corrompê-los. Com frequência as propinas são cobradas por indivíduos que ocupam cargos públicos a partir dos quais exercem um certo poder discricionário. A discricionariedade deve ser entendida em sentido amplo. Até os contínuos podem ter o poder de apagar a seu bel-prazer o processo de transferência de documentos de uma repartição para outra. Em contrapartida, quanto mais o desempenho dos políticos e dos funcionários está sujeito a regras e verificações, menor é a possibilidade de corromper. A transparência é um elemento fundamental para o funcionamento da democracia: ela permite o controle por parte dos cidadãos sobre as atividades dos governantes, que funda e legitima a democracia representativa. A delegação de poder por parte dos cidadãos aos seus representantes pressupõe de fato a possibilidade de conhecer, avaliar e eventualmente sancionar o seu desempenho. Isto vale tanto para os representantes eleitos, que têm a tarefa de tomar as decisões políticas, quanto para os administradores de carreira, que devem implementar aquelas decisões (Bobbio, Norberto, et Viroli, Maurizio. Diálogo em torno da República. Trad. Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2002, pp. 106-111).
Adrian Wooldrige, jornalista e historiador inglês, em entrevista veiculada pela Revista Veja, edição de 18.10.2017, p. 19-23, assim finaliza a mensagem que pretendeu repassar através de seu livro A Quarta Revolução – A Corrida Global para Reinventar o Estado, publicado em 2014:
Precisamos de um Estado poderoso para fornecer serviços públicos, para evitar que a pessoas matem as outras, para preservar a ordem pública. O problema é que o Estado tende a se autoalimentar. Quanto maior o seu tamanho, mais indisciplinado ele fica. Presta serviços cada vez piores à população, até colapsar sob o próprio peso. É preciso usar a tecnologia moderna para aperfeiçoá-lo. Pode parecer banal dizer isso, mas, se voltarmos ao século XIX, houve um salto de produtividade graças ao uso de máquinas que substituíram trabalhos feitos à mão, com a Revolução Industrial e a Revolução Agrícola. Agora temos as bases de uma nova revolução com as máquinas inteligentes. Os computadores tendem a ser intensivos no uso de informações e de mão de obra. A produtividade na prestação de serviços pode crescer muito... A democracia é a melhor entre todas as formas possíveis de governo, ainda que seja capaz de apresentar problemas de toda espécie, como promessas demais, muitas das quais descumpridas. Existe a corrupção. Mas a democracia é muito valiosa e precisamos reformá-la e protegê-la dela própria... O populismo está substituindo o julgamento individual sobre a Constituição e o governo... Por trás disso tudo está, infelizmente, a estagnação econômica. As pessoas ficam furiosas. Nesse estado, se tornam demagogas. E uma razão pela qual os países se encontram estagnados economicamente é que eles estão dispendendo demais com os gastos obrigatórios, sem investir o suficiente na economia produtiva. Tudo isso mostra que é preciso um novo rumo.
Desde que esse novo rumo, ressalve-se, siga pautado pela ética universal do respeito à dignidade das pessoas e seu legítimo anseio de articular liberdade e segurança. Tal a missão permanente dos órgãos de controle externo e judicial.
*Jessé Torres Pereira Junior. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conferencista emérito e professor-coordenador dos cursos de pós-graduação em direito administrativo de sua Escola da Magistratura. Professor convidado da Fundação Getúlio Vargas – Rio e da Escola Superior de Advocacia da OAB-RJ. Membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros.